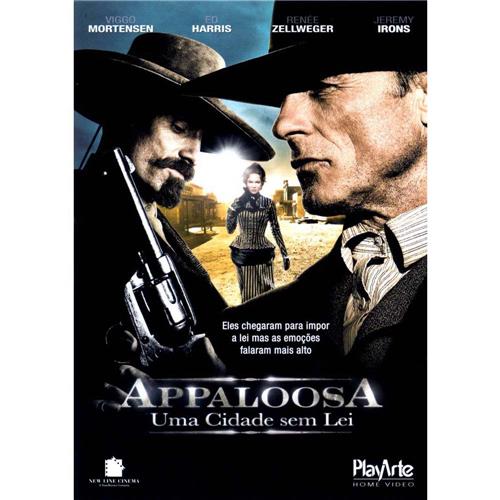Dr. José Roberto
O tempo vai passando e de certa forma vou vendo coisas que preferia não ver, mas, se sou obrigado a ver queria eu poder compreendê-las.
Recentemente… por uso de substâncias…. ficaram abstinentes por mais de cinco anos.
Como pessoas esclarecidas, …. podem voltar a fazer algo (que eu e todos acreditavam ou esperavam) que não fariam?
Um tema atual porem pouco compreendido é “recaída”.
… após dez anos abstinente ele voltou a usar…
(não importa se foi sexo compulsivo, violência, nicotina ou heroína)
Por que um “ex”fumante volta a usar nicotina após um, dois ou cinco anos de abstinência?
Quais partes do cérebro estão envolvidas ou debilitadas?
As influências do meio ambiente, como contribuem?
(Questões de um leitor preocupado com recaídas nas drogas fato que está acometendo dois dos seus amigos)
Antes de analisar recaídas, prezado leitor, é necessário compreender a “caída” inicial.
Por que um indivíduo começa a usar drogas ou a jogar ou a ter qualquer comportamento de adição? Veja que não estou falando aqui de experimentação ocasional de uma droga qualquer, estou me referindo a uma outra fase que eventualmente se originou da experimentação, que é um comportamento de adição, ou do popularmente chamado vício. Então, refaço a pergunta: por que as pessoas se viciam?
A resposta genérica é simples: para combater conflitos internos que causam angústia.
A adição a drogas, ao sexo, aos jogos ou ao trabalho, aliviam essa angústia. Resolvem-na de alguma maneira.
O sujeito cai no vício, no hábito persistente de fazer algo, com os sentidos pejorativos todos que existem por trás dessa acepção da palavra, porque se sente melhor do sintoma ansiedade.
A realização de um vício, em um primeiro momento e imediatamente, acaba com o incômodo da angústia.
A embriaguez, em seu sentido próprio e em seu sentido figurado – exaltação causada por grande alegria ou admiração; enlevação, inebriamento, êxtase (Dicionário Houaiss) – decorrente de qualquer droga ou de qualquer paixão, muda imediatamente o foco desagradável em que a pessoa está fixada e que lhe está provocando sofrimento.
Conflitos internos nascem de interesses contraditórios dentro da pessoa: entre dois desejos diferentes, entre um desejo e a censura a ele, entre dois ideais, que se assemelham mas que são diferentes; outras vezes entre assuntos oriundos de diversos polos de interesse da pessoa. Muitos desses conflitos, por serem mais frequentes, já se encontram mapeados há bastante tempo. Um dos polos de determinado conflito psicológico pode se originar, por exemplo, do superego, instãncia psicológica postulada por Freud, conceito fundamental da teoria psicanalítica.
O superego cobra atitudes congruentes com nosso projeto de vida, atitudes que foram idealizadas e fixadas como boas. Se não estivermos cumprindo com esse plano geral de vida, que nem é totalmente consciente, sofreremos forte ansiedade que é, então, indicadora de conflito interno. Uma espécie de termômetro da “febre” emocional aqui chamada de “conflito interno”.
Diz-se, com grande propriedade, que o superego é solúvel em álcool, isto é, pode-se compreender, se quisermos aqui explicar o fenômeno também biologicamente e não apenas psicologicamente, que a substância etanol, sendo depressora do sistema nervoso central, exclui do funcionamento cerebral naquele momento, os neurônios associados com a censura interna, com o superego, com aquele nosso lado que compara o que estamos fazendo com o que desejávamos como projeto de vida. A embriaguez muda o comportamento da pessoa globalmente pelo fato de deprimir todos os neurônios mas o efeito que chama mais a atenção em um primeiro momento é a falta de crítica que induz no intoxicado.
O álcool dissolve o superego. Por um tempo.
Exatamente o que desejamos, às vezes ou quase sempre. Se conseguirmos desativar o guarda, anular a polícia que existe dentro da gente, poderemos fazer coisas proibidas porque prazerosas, com muita facilidade. É aqui que entra a adição a uma droga como o álcool.
Ainda estamos engatinhando no esclarecimento da intimidade biológica desses processos cerebrais relacionados com os componentes pulsionais.
Chegou-se, já há bastante tempo, ao circuito de recompensa cerebral que envolve neurônios cujos corpos celulares estão em núcleos ligados ao sistema límbico e que causam prazer imediato quando estimulados. Seu mapeamento científico detalhado continua apesar de muitas das vias pelas quais os impulsos nervosos chegam a tais neurônios já serem conhecidas, constando da realidade científica atual.
Pois bem, as drogas e as paixões estimulam de alguma maneira esse circuito de recompensa.
Como? Sabe-se só um pouco, ainda, sobre isso. Porém, o conhecimento atual já se mostra suficiente para fazer surgir no universo do tratamento biológico, na moderna psicofarmacologia, remédios bastante eficazes nesta primeira década do século XXI.
Também os tratamentos psicoterápicos evoluiram muito.
As pessoas tendem a ter maior facilidade para lidar com tratamentos que não incluam remédios. Tentem fazer esta pergunta, a conhecidos e parentes: o que você considera que é melhor para acalmar a angústia provocada por um conflito interno: um afago ou 3-hidroxi-4-pentano-qualquer-coisa na veia?
Quase todo mundo responde que o afago é melhor, não é?
Acontece que essa, talvez, não seja a resposta majoritária daqui a cem anos.
Tal dicussão, no entanto, é também complexa e demanda outro artigo. Voltando ao tema deste, o que é senso comum é que as pessoas vão atrás das sensações prazerosas. Também, por outro lado, fogem de situações potencialmente ou francamente desprazerosas. Ninguém quer pagar mico nenhum, nunca. Não apenas gente, seres humanos.Todos os animais.
Um rato com um eletrodo implantado em seu circuito de recompensa cerebral, não quer saber de mais nada a não ser de ficar indefinidamente apertando a alavanquinha que provoca o estímulo da área cerebral. Orgasmos. Não são o melhor da vida? Não é o que mais motiva as pessoas? O rato só para quando se esgota fisicamente de tanto orgasmo.
Sabendo dessas coisas, pode-se interagir com a pessoa que está apresentando o problema e até ajudar a resolvê-lo, com remédios e com outras abordagens.
É por isso que as psicoterapias, as religiões, as amizades, os conselhos, as repressões, funcionam. Em graus diferentes de efetividade, claro, mas que funcionam, funcionam.
Hoje em dia é apenas parcialmente conhecida a maneira como o impulso nervoso decorrente de um afago, de um cafuné, viaja na rede neuronal, quais suas conexões, em que lugares cerebrais age, quais mediadores químicos estão envolvidos, qual o mecanismo íntimo biológico que faz com que cause calma, por exemplo, num nenê que está num berreiro catastrófico total.
De qualquer modo, indiferente a esses detalhes, a maioria das pessoas se contenta em saber que o que acalma o nenê estressado é o afago.
E como seria o afago dirigido a um drogado? Quem deveria fazê-lo?
Existem muitas formas de ser feliz. Algumas felicidades são mais simples, outras mais complexas. O nível de intensidade delas também é variável.
Observar um pôr-do-sol, uma paisagem deslumbrante, um bicho e seu estranho comportamento, é muito prazeroso para muita gente. E imediato.
Sentir um gosto agradável, ouvir uma música, deliciar-se com ela. Imediato.
Fazer essa música que deliciou alguém, também é prazeroso. Um prazer maior porque se sustenta em outros prazeres pequenos, remete a outros momentos, tem a característica de se repetir em outras conjunturas, compete, celebra, rearranja as iniciais.
Fazer uma música é muito mais complexo que ouvir uma música. Deve ser e é, portanto, um prazer maior. Quem já fez uma música sabe disso.
Temos, então, uma escala de prazeres dentro da gente.
Prazeres menores, afagos, que, gradativamente, vão se somando, se articulando, se complicando e vão construindo outros prazeres maiores.
É necessário firmeza de intenção, insistência, um certo insistir, uma capacidade de resistir a frustrações iniciais, que não são todos os seres humanos que o conseguem, para executar tal tarefa de obtenção de prazeres complexos.
Às vezes nem é necessário o resultado final. O próprio ato de conseguir construir esse percurso, de tê-lo planejado, com o tempo e com a percepção de que o resultado imaginado foi possível e foi muito bom, já se torna prazeroso, para alguns.
Penso nesse personagem que está em evidência outra vez na atualidade, com dois filmes que pretendem biografá-lo parcialmente e que já esteve antes no imaginário popular, por ser figura emblemática de revolucionário: Ernesto Che Guevara. Com a vitória que obtiveram ele e seus companheiros, poderia ter entrado em outra dimensão de sua existência, ajudar a reconstruir sua pátria da maneira como sempre sonhara. Não quis, no entanto, usufruir desse novo prazer, ao contrário de Fidel Castro. No momento subsequente à vitória da revolução cubana, existia ali a necessidade de reconstrução do país que, em última instância, era o fim que Fidel ansiava. O meio para conseguir esse fim, foi a revolução.
Ernesto Che Guevara, no entanto, preferiu continuar revolucionando outros lugares, outros países, derrubando estruturas sociais que julgava insuficientes. Fixou-se no ato de fazer revoluções. Mirava-se em Bolivar, não em Fidel Castro. O meio (revolução armada) para atingir um fim (reconstruir o país não mais com as regras do capitalismo) passou a ser um fim em si mesmo, o objetivo de sua existência.
Ser revolucionário é algo absolutamente complexo. Muito mais “evoluído”, no sentido de complexidade, que o ouvir uma canção. Ou que fazê-la.
São, portanto, coisas diferentes, que levam a intensidades de felicidade diferentes. Para se conseguir a felicidade associada com a realização de um sonho, é necessário, entre outras coisas, uma tolerância e uma resistência a frustrações muito grandes, que drogados de uma forma geral não têm dentro de si. Preferem os prazeres mais imediatos apesar de menos duradouros e menos intensos.
De outro lado, evolução não significa, por si só, o abandono definitivo de soluções parciais conseguidas anteriormente.
O autor de músicas nunca deixa de curtir outras músicas, nunca deixa de gostar de ouvi-las. Apenas as ouve de outro modo. Ouve-as com ouvidos de compositor. Não mais de simples admirador.
É por isso que recaídas na droga não devem ser consideradas o fim do mundo.
Representam apenas uma volta ao primitivo modo de ser. Ou, pelo menos, uma tentativa de voltar ao que já passou, ao que já viveu anteriormente. Um saudosismo. Por isso mesmo faz parte do processo de abandono de determinada fixação.
Fuga para as drogas. Recaídas nada mais são do que retornos a momentos onde resolveu “bem” alguma situação conflitante que lhe causava forte incremento na angústia normal até então administrável.
Independentemente do enredo social a que está submetido, do maior ou do menor interesse que o romance pessoal adquira para este ou aquele público, de maior ou de menor complexidade, contado desta ou daquela maneira, o sujeito recai quando não consegue mais administrar, com o aparelho psicológico que possui, naquele momento, a ansiedade resultante de reagudização de seus conflitos internos. Ou de novos conflitos também insolúveis naquele momento.
Isso é verdadeiro e acontece com frequência.
Existem outras possibilidades, menos freqüentes.
O viciado pode, também, numa atitude magnânima consigo, achar que já se livrou do passado e experimentar a maneira que utilizava anteriormente, que hoje sabe que é pobre, para constatar vitoriosamente, verdadeiramente, que mudou ou que já não depende mais daquilo, da droga de abuso.
Esse coitado, por pura ignorância, talvez, ainda não sabe que resolveu cutucar a onça com vara curta.
Acontece que a força biológica é enorme. A onça o engole de novo. Os receptores cerebrais anteriormente sensibilizados para a droga, que estavam desativados, assim como velho caminho, o percurso do estímulo neuronal, são imediatamente reavivados. E o prazer reaparece como uma velha fantasia utilizada em outros carnavais, com todo seu esplendor.
Realmente não se deve cutucar a onça com vara curta. A onça, a bem da sanidade geral, deve ser esquecida.
Mas isso é mais um aprendizado que se tem que fazer.
O adito deve, sim, ser alertado para o fato.
Mas, quando acontece, tal aprendizado tem que ser realizado pelo próprio sujeito, no modo de vida da atualidade em que está sofrendo com o problema. Não pode ser imposto e nem é possível aprendê-lo e apreendê-lo apenas teoricamente. Isso significa que não é desejável que seja tirado de sua cidade, de sua família, de seu trabalho, para se tratar numa clínica no campo, até se desintoxicar e “mudar seu modo de ver a vida”.
Assim não mudará nunca. Não vai repensar seus problemas nem se repensar num contexto de cidade grande, convivendo com pessoas na roça, por exemplo. Por mais preparadas que sejam. Quando voltar, os problemas que o fizeram recair continuarão no mesmo lugar.
Para que resolva esses problemas ele precisa continuar convivendo com a gente de seu meio, com seu trabalho, com seus vizinhos, com seus colegas. Dentro do seu contexto de vida. Tem que se tratar na cidade onde se encontra, resolver seus problemas dentro dela.
Terá que procurar ajuda concreta, especializada, terá que começar psicoterapia e tratamento com psiquiatra. Terá, talvez, que conviver com uma equipe multiprofissional por um tempo. Infelizmente não vai sair do buraco em que se meteu novamente se não fizer nada e se sua família for ignorante ou até mesmo cúmplice nesse seu modo de agir.